Throwback this, throwback that. Porque é que estamos tão apegados ao passado?
Tudo parece uma homenagem. Quase nada consegue ser inteiramente novo – tudo é eco, tributo ou reinterpretação do que já existiu. A cultura contemporânea vive obcecada pelo passado e a criatividade parece ter sido substituída por reinterpretação, referência e nostalgia.
A palavra “nostalgia” nasceu do grego antigo “nostos”, ‘regresso a casa’ e “algos”, ‘dor’. Para os gregos, descrevia o sofrimento que sentiam quando estavam longe de casa. Com o tempo, o termo popularizou-se e, atualmente, associamos a palavra nostalgia a quando sentimos saudades de momentos e experiências do passado que nos evocam simultaneamente a sensação de afeto e melancolia.
É, verdadeiramente, um paradoxo emocional, uma mistura improvável de sentimentos opostos: a saudade do que já se foi e a consciência de que esse algo nunca mais voltará a ser/acontecer da mesma forma. Quando revisitamos memórias, por vezes, a sensação de tristeza por sabermos que não se repetirão sobrepõe-se à alegria que devíamos sentir por as termos vivido. É nesse contraste, entre o prazer da lembrança e a dor da perda, que reside a intensidade e o perigo da nostalgia. É tão poderosa que sentimos saudades até do presente ao sabermos que também ele será passado e que, no futuro, sentiremos falta dele.
Num dos grandes clássicos do cinema, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, a nostalgia é retratada com ambiguidade. O filme é bem-sucedido ao berrar-nos na cara que o passado é intocável: pode ser relembrado, nunca revivido. É uma carta de amor à memória, mas também um aviso: alguém que está preso ao passado jamais alcançará o seu verdadeiro potencial.

Ora, este é o ponto: enquanto sociedade, principalmente no que toca à arte, estamos a afundar-nos no passado.
A cultura pop tornou-se um museu de si mesma — e nós, visitantes nostálgicos, aplaudimos cada repetição como se fosse uma nova descoberta. Eu já só consigo observar a constante reciclagem do passado, que nos está a levar lentamente a caminho de uma cultura achatada e homogénea em que tudo o que é “novo” é apenas a reconfiguração do antigo.
As passadeiras vermelhas são desfiles de fantasmas: as celebridades vestem “homenagens” e “referências” a outras celebridades icónicas de quem sentimos saudades – Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Britney Spears. Algumas peças nem sequer são referências, são efetivamente as roupas delas, quase peças da história (é suposto ser algo bonito, mas pessoalmente sempre me soou meio macabro). Ícones a serem forçadamente ressuscitados, os seus looks recriados, as suas peças retiradas do arquivo. Repetição sob o mesmo formato, mas com diferentes rostos.

O vintage tornou-se no novo luxo. E a moda, como sabemos, é cíclica – daí estarmos constantemente a reciclar tendências de outras eras. O Y2K revival, a moda dos anos 70 e 90… até aqui, tudo bem. Mas pergunto-me: quando daqui a 40 anos olharmos para os nossos anos 20, que estética será a “típica” desta década? É possível que não haja uma. Não temos uma identidade coletiva, uma assinatura própria.
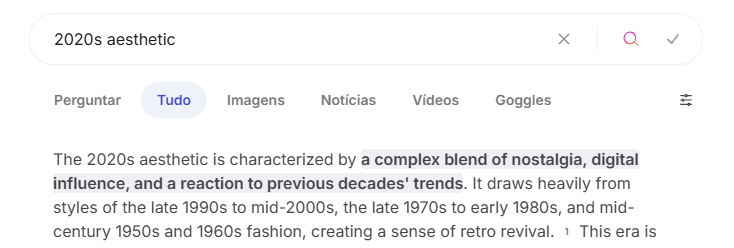
Claro que, em parte, é positivo: nunca houve tanta diversidade de estilos e liberdade para nos expressarmos dessa forma. É positivo que não exista um “uniforme”.
Ainda assim, (pelo menos, na moda mainstream acessível ao cidadão comum) vivemos numa era que recicla tudo e cria pouco do zero. Uma era que veste memórias em vez de deixar a sua marca.
Enquanto apreciadora de cinema, adoro aqueles momentos em que olho para um frame e sei dizer “isto é uma referência/tributo a x clássico ou a y realizador”. O que não adoro são os constantes remakes. Remakes de filmes antigos, de filmes estrangeiros. Sequelas e reboots de sagas que já acabaram há 20 anos. Live actions de clássicos de animação.
E não preciso de apontar que estas coisas são repescadas como forma de fazer dinheiro fácil. Ansiamos pela nova versão da nossa (já terminada há anos) série favorita mesmo sabendo que não vamos ficar satisfeitos: na hora da verdade aprendemos que nada novo se vai comparar à sensação que a original nos dá.
Na música vivemos na era das samples, dos remixes, das covers. São as mesmas melodias que conhecemos e amamos, mas com novas vozes e produções. É basicamente onde os impulsos criativos vão para morrer.
Tudo o que já foi feito está a um clique de distância. Este acesso ilimitado a arquivos cria uma espécie de “paralisia criativa”: uma sensação de que tudo já foi feito e inventado. E como ser original quando tudo já existe, disponível e comparável (só nunca equiparável)? Quando tudo é “em homenagem a”, onde resta espaço para o “pela primeira vez”, para o “nunca antes visto”? Para a lufada de ar fresco que é algo criativo e original? Tudo o que é atual tenta ser antigo. A cultura reflete o tempo em que vivemos. E se estamos obcecados com o passado, será porque já não acreditamos no futuro?
Jacques Derrida chamou a isto hauntology. Uma palavra que foi inventada para descrever esta sensação de sermos perseguidos por ideias e futuros que nunca chegaram a acontecer. O termo vem de “haunting” (assombração) e a ideia é simples: o presente está assombrado pelo fantasma do passado – sons, imagens, estilos e promessas que, carinhosamente, já devíamos ter deixado para trás, mas continuam a aparecer, como ecos que se recusam a morrer. É como se a cultura não conseguisse seguir em frente, como se o futuro estivesse em standby e o passado constantemente a regressar, disfarçado de novidade, simplesmente vestido, representado ou interpretado por outras pessoas, (que por vezes não lhe fazem o jus que tanto ansiávamos e não nos provocam a emoção original) num remix infinito. O revivalismo está mais presente que nunca, mas apenas de forma superficial e por aesthetic purposes.
Para mim, a nostalgia devia ser apenas uma ponte entre gerações, que se pode atravessar e depois voltar para casa, uma forma de conectar outras épocas a quem as descobre pela primeira vez. Como pode acontecer com quem aprecia a música vinda de um vinil e não do Spotify, a fotografia tirada por uma analógica e não por um telemóvel. Ver os filmes originais, mesmo os antigos, porque eles existem e estão disponíveis e recomendam-se. Temos o privilégio de poder testemunhar o trabalho da vida de artistas que não morreu com eles. A arte é infinita e imortal.
Talvez a autenticidade hoje já não seja sobre fazer-se algo novo, mas sim sobre como se reinterpreta. E talvez isso não precise de ser mau, apenas sintomático de um tempo hiperconectado e autoconsciente
Torna-se um problema se na realidade não for falta de criatividade, mas falta de esperança no futuro. Quando o amanhã parece incerto, o passado torna-se o único lugar seguro para criar. Podemos usar a crescente instabilidade global como desculpa para o nosso défice de criatividade e a nostalgia utilizada como arma de defesa, como forma de nos sentirmos mais seguros e aconchegados pela previsibilidade. O passado como anestesia do presente. Mas o passado devia ser um lembrete de que já superámos momentos difíceis antes e, portanto, conseguiremos fazê-lo novamente. Não algo que nos prende, que nos atrasa e que nos limita.
Esta reflexão pessimista tem de acabar numa nota positiva: um apelo a que o confronto diário com esta frustrante repetição nos faça valorizar quando, finalmente, presenciamos originalidade. E ela ainda anda por aí.
A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for – John A. Shedd.
Este artigo de opinião é da pura responsabilidade da autora, não representando as posições do desacordo ou dos seus afiliados.
Escrito por: Nina Silva
Editado por: Leonor Oliveira

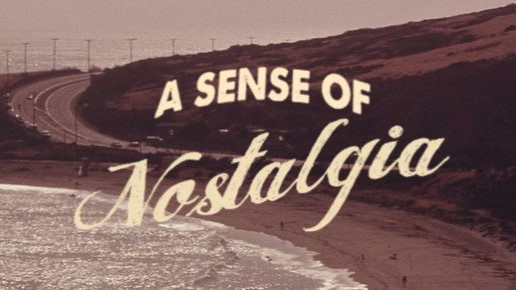
Deixe um comentário